Ufam na COP30 – Pesquisadores defendem governança climática como estratégia para a adaptação climática nas cidades brasileiras
Nove dos 13 municípios da Região Metropolitana de Manaus tiveram pontuação de média a muito alta na produção local de alimentos. Já na resposta aos impactos das mudanças climáticas, a maioria deles ficou com pontuação baixa
Com enfoque no levantamento da capacidade adaptativa dos municípios aos impactos causados pelas mudanças climáticas, uma rede de pesquisadores das diversas regiões do País investiga a interdependência que existe entre os impactos dos eventos extremos, as questões políticas e as dinâmicas locais do planejamento urbano. Docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e vinculado ao Programa de Pós-graduação em Sociologia (PPGS) e ao Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), Tiago Jacaúna integra o projeto.
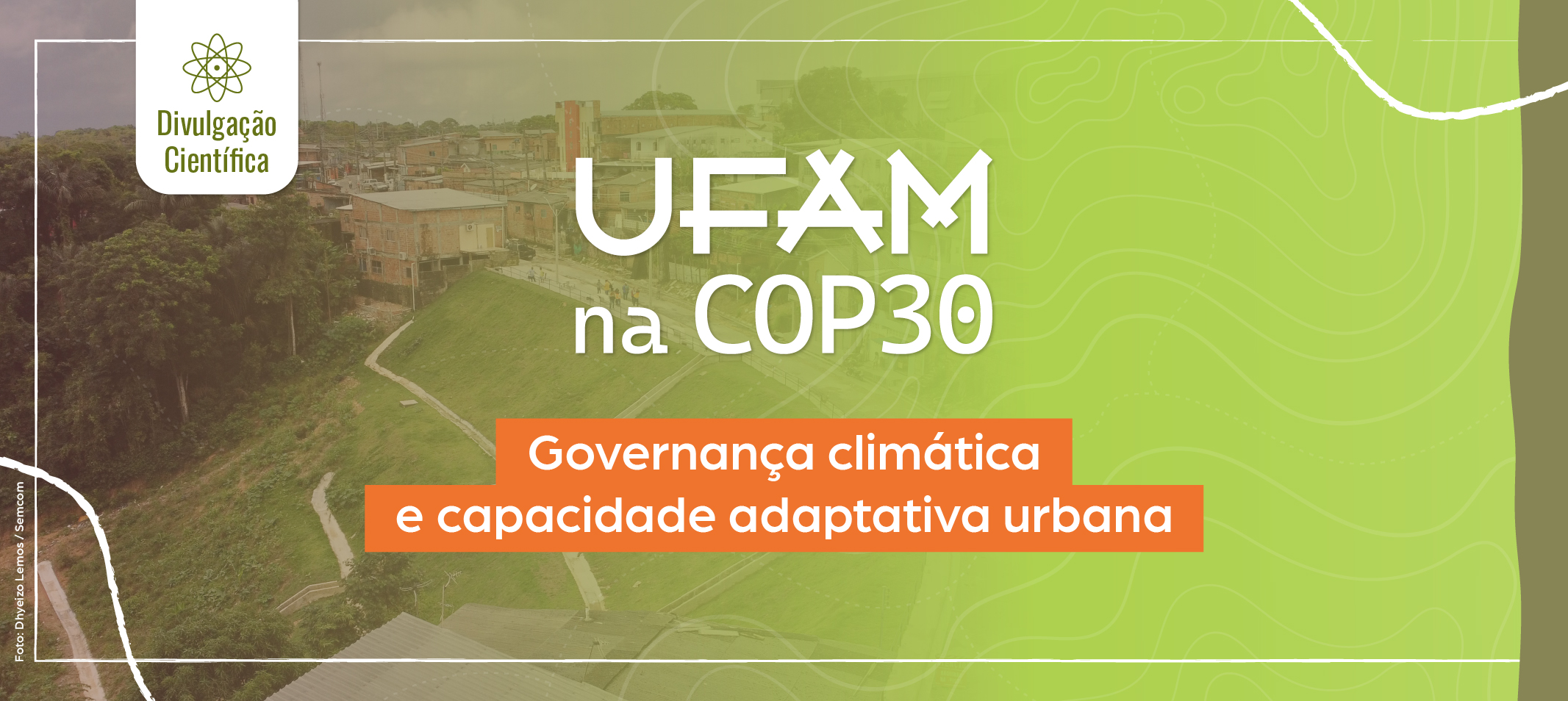
Ele aborda os desafios da política climática na região amazônica, onde grande parte das cidades é parte de uma conjuntura marcada por desigualdades sociais e limitada infraestrutura urbana, problemas históricos intensificados por eventos climáticos extremos, como a enchentes ou as secas severas e prolongadas. Segundo analisa o professor, é nesse contexto que a população enfrenta situações como desalojamento, precariedade no abastecimento de alimentos e crescente incidência de doenças.
De modo mais específico, a parcela do estudo de abrangência nacional pela qual o pesquisador da Ufam está responsável é a Região Metropolitana de Manaus (RMM), onde se identifica a ocorrência de todos esses fenômenos, considerado o recorte da Amazônia Ocidental (subdivisão da Amazônia Legal composta por Amazonas, Acre, Rondônia Roraima). Jacaúna avalia: “Se tomamos o problema pela dimensão local, os impactos são sentidos de diferentes maneiras, dependendo da condição social, política e econômica das cidades. Os impactos são sentidos em maior proporção pelas pessoas que habitam localidades com infraestrutura e saneamento mais precários”.
O global e o local
Em nível internacional, as grandes conferências têm sido espaços de debate para além de uma abordagem do aspecto da geografia física, posicionando o tema das mudanças climáticas no debate político, dando a ele uma posição cada vez mais central, inclusive. A Eco 92, que popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável; o Protocolo de Kyoto, em 1997, com o debate político em torno do aquecimento global; o Acordo de Paris, adotado como substituto do Protocolo de Kyoto durante a COP21, em 2015; e a própria COP30, que será agora em 2025, na Amazônia. Essas iniciativas ajudam a enxergar o problema de um ponto de vista geral, atribuindo responsabilidades aos atores globais.
No caso deste trabalho, desenvolvido por uma rede de pesquisadores no Brasil, o enfoque é mesmo nas dinâmicas locais. Comparativamente: de um lado, a visão mundial funciona como uma grande angular, ampliando-se até obter um quadro geral do problema; de outro lado, a perspectiva local seria como uma teleojetiva, aproximando objetos distantes para mostrar os detalhes, mais precisamente, os impactos sobre as comunidades e os povos que habitam nas cidades onde os rios transbordam até engolir as casas ou, ao contrário, secam por quilômetros, matando peixes e retirando o alimento dos ribeirinhos.
Segundo o professor Tiago Jacaúna, os impactos locais das mudanças climáticas podem ser experimentados de maneiras distintas, e isso depende sobretudo da condição social, política e econômica desses locais. Todavia, boa parte das municipalidades Brasil afora não têm as condições necessárias para lidar com essas dificuldades; e os motivos são variados, de modo que a ação federal é que pode promover o mínimo de equilíbrio.
“Quando a gente olha para o Brasil, percebe que os municípios são diferentes um do outro, existem necessidades diferentes, uns arrecadam mais, têm uma população maior e um orçamento mais robusto para implementar as ações ambientais. Outros têm baixa capacidade institucional para realizar as ações adequadas, seja escassez de orçamento, ou de recursos humanos, entre outras limitações. Dessa forma, a ação nacional se impõe principalmente para equalizar o problema nos municípios menos preparados para promover as políticas públicas necessárias nesse setor”, explica o pesquisador.
As questões transversais (infraestrutura, saneamento, educação, orçamentária, planejamento urbano como um todo) são enfrentadas por todos os municípios brasileiros, em maior ou menor grau, o que demanda, conforme a explicação do professor, a criação e a implementação de políticas nacionais. “Há problemas que acontecem em todos os municípios, são comuns a todos eles; por isso a atuação em nível macro é crucial, porque ajuda a equilibrar as ações em todo o território brasileiro”, aponta. Nesse caso, os esforços vão ser no sentido de tornar essas ações abrangentes e fazer um amplo enfrentamento.
A rede, a ponte
Esse grupo de investigadores vem trabalhando com o índice de adaptação às mudanças climáticas pelo menos desde 2021, providenciando uma coleta de dados que considera sobretudo a pesquisa de informações básicas municipais disponível na base do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conhecida como ‘IBGE Munic’. Nesse acervo constam os dados das cidades brasileiras sobre habitação, mobilidade urbana, produção local de alimentos, gestão ambiental e respostas aos impactos climáticos.
O índice empregado no levantamento foi composto a partir de três elementos explorados a fundo pelo grupo interdisciplinar: Revisão bibliográfica sobre o tema, Workshops (oficinas) e Política Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Já o ‘IBGE Munic’ é a base capaz de fornecer as políticas e os instrumentos que cada município brasileiro possui, ou seja, é o banco de informações sobre o qual os pesquisadores se debruçaram, aplicando os instrumentos de análise e gerando resultados sobre a capacidade potencial de adaptação que essas municipalidades já teriam hoje para lidar com os impactos causados pelas mudanças climáticas.
Em síntese, o grupo testou e aplicou o chamado Índice de Adaptação Urbana, do inglês Urban Adaptation Index (UAI), que é um desdobramento do Índice de Vulnerabilidade Socioclimática (IVSC) já existente na literatura da área. O UAI também tem inspiração no Projeto CiAdapta, iniciativa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) cujo objetivo é compreender como os governos das cidades brasileiras abordam a adaptação climática. A proposta ampla, em ambos os casos, é estabelecer a correlação entre a intensidade das mudanças climáticas, de um lado, e os fatores sociais capazes de influenciar a vulnerabilidade da população de uma localidade.
 Esse índice está dividido em cinco dimensões: Moradia, relacionada à resiliência e à vulnerabilidade das estruturas residenciais e assentamentos aos impactos climáticos; Mobilidade Urbana, centrada na manutenção de sistemas de transporte funcionais e tráfego de baixo carbono; Agricultura Sustentável, com foco nas práticas agrícolas resilientes ao clima e na segurança alimentar; Gestão Ambiental, relativa a serviços ecológicos, gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos e infraestrutura verde; e Gestão de Risco Climático, detida a temas como planejamento, sistemas de alerta, resposta a desastres e mecanismos de governança para prevenção e redução de danos.
Esse índice está dividido em cinco dimensões: Moradia, relacionada à resiliência e à vulnerabilidade das estruturas residenciais e assentamentos aos impactos climáticos; Mobilidade Urbana, centrada na manutenção de sistemas de transporte funcionais e tráfego de baixo carbono; Agricultura Sustentável, com foco nas práticas agrícolas resilientes ao clima e na segurança alimentar; Gestão Ambiental, relativa a serviços ecológicos, gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos e infraestrutura verde; e Gestão de Risco Climático, detida a temas como planejamento, sistemas de alerta, resposta a desastres e mecanismos de governança para prevenção e redução de danos.
Ao aplicar essa metodologia de análise aos dados extraídos do banco nacional, a equipe consegue apurar a capacidade potencial de adaptação que os municípios têm. “Mas por que potencial? Nós coletamos as informações nos instrumentos e nas políticas dos municípios que as possuem, mas não avaliamos se são eficazes ou se existe uma agenda política que esteja alerta ao problema das mudanças climáticas”, revela o professor. Isso porque o objetivo da pesquisa é extrair informações desses documentos, não avançando, por exemplo, para análises de eficácia da aplicação de tais políticas e instrumentos. Um conhecimento é produzido nessa pesquisa, e ele poderá orientar futuras empreitadas.
Principais achados
Obedecendo ao escopo colaborativo da pesquisa, o professor da Ufam ficou responsável por aplicar o índice aos instrumentos e às políticas indicadas aos municípios da região no entorno da capital amazonense, que compõem a região metropolitana. Ao todo, são 13 municípios: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves. O primeiro alerta, em relação à metrópole agregadora, é preocupante: “Na dimensão de resposta às mudanças climáticas, Manaus tem um comportamento ruim. Até hoje, não existe um plano municipal de redução de desastres”.
De modo resumido, funciona assim: o índice aplicado na avaliação varia numa escala de zero a um, em que zero significa desempenho “muito baixo” naquela dimensão e “um” é o melhor desempenho possível. Nesse intervalo, há cinco faixas de desempenho: de 0 a 0,2 – muito baixo; de 0,2 a 0,4 – baixo; de 0,4 a 0,6 – médio; de 0,8 alto; e de 0,8 a 1 – muito alto. A análise é feita a partir de questionamentos desdobrados, por exemplo: na dimensão “habitação”, há três perguntas a serem respondidas: nessa cidade existe um plano Plano Municipal de Habitação (uma política)? Existe um Conselho Municipal de Habitação (instrumento)? Ou existe um Fundo Municipal de habitação (instrumento)? Nesse caso hipotético, se forem encontrados os dois instrumentos e a política, a pontuação é máxima. Ela vai caindo conforme exista um ou dois deles: há os três (1 ponto); só existe um (0,333).
“É importante lembrar que essa fase do estudo não contempla trabalho de campo, mas a base de dados do IBGE, onde cada município aponta se há e quais são as suas políticas de habitação, de gestão ambiental, de resíduos sólidos [...]. As políticas precisam ser contínuas e equilibradas, no sentido de que necessitam que cada dimensão não seja negligenciada”, esclarece o professor Tiago Jacaúna, ao citar uma recente publicação no jornal de divulgação científica da Universidade de São Paulo (USP), em que se aborda o processo adaptativo das cidades amazônicas às mudanças do clima.
“De modo geral, todas as dimensões resultaram em pontuações irregulares para o conjunto de municípios da RMM. A maioria deles teve pontuação de ‘média’ até ‘muito alta’ na dimensão da produção local de alimentos. A existência de hortas comunitárias, o incentivo à agricultura familiar e a produção de alimentos orgânicos refletem a resiliência e a adaptação local nesse aspecto. As pontuações mais baixas foram para as cidades de Silves, Manacapuru, Iranduba e Autazes; mas nove entre os 13 municípios se saíram bem ou muito bem nesse quesito”, analisa o professor.
“Duas dimensões do nosso índice foram mais críticas na RMM. Em Itacoatiara, por exemplo, a habitação se mostra um problema crítico, sobretudo porque é um município populoso onde não há uma política habitacional, assim como ocorre em Manacapuru, Rio Preto da Eva e Novo Airão. Quanto à resposta aos impactos das mudanças climáticas, com exceção de Manaus e Presidente Figueiredo, as demais cidades tiveram notas muito baixas nesse aspecto”, revela o pesquisador.
De volta à questão da governança climática, Tiago Jacaúna argumenta sobre a necessária interação entre os diversos atores sociais, governamentais ou não, no sentido de criar políticas multissetoriais. “É preciso estabelecer um conjunto de soluções que passem pela cooperação e pelo compartilhamento das responsabilidades”, sintetiza. “Já que a dimensão das mudanças climáticas atinge de forma diferenciada as populações, é urgente olhar para as pessoas vulnerabilizadas. Sabemos que as cidades na Amazônia apresentam diferentes graus de urbanização, sendo indispensável olhar para essas populações, apoiar as ações locais de adaptação e também construir junto com as comunidades, os povos e os territórios as políticas públicas que atendam as suas especificidades”, completa.
Diante dos países convidados, COP30 se estabelece como aquela Conferência que dará voz e representatividade às comunidades e aos povos da Amazônia. Quanto a isso, o professor faz um alerta: “É urgente que as pessoas mais impactadas tenham poder decisório nesses fóruns, e lhe seja assegurada a participação ativa nos debates locais e internacionais. Por outro lado, não se pode pensar em mitigação sem chamar os atores privados à responsabilidade, pois são necessários vários níveis de coordenação. Boa parte do setor privado perderia lucros com a devastação da Amazônia, com crises energéticas ou crises hídricas, tudo isso decorrente das mudanças climáticas. Veja como são todas essas são dimensões interligadas. É preciso haver uma percepção séria sobre isso”.

Redes Sociais